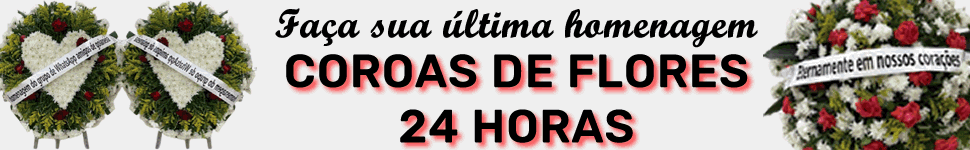Aos 76 anos, o jornalista Sérgio Gomes guarda na memória, na alma e na própria pele os sofrimentos e o horror a que foi submetido nas dependências do DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna), a máquina de pancadaria instalada nos quartéis durante o regime de exceção. Era a primavera de 1975. Nessa mesma época, também estava por ali, subjugado, um outro jornalista, Vladimir Herzog, ou simplesmente Vlado, assassinado no dia 25 de outubro, há cinquenta anos.
“O Vlado foi torturado durante toda aquela manhã e depois, lá pela hora do almoço, fez-se um silêncio e, logo, veio uma confusão, uma correria, e a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Eles tinham acabado de matar o Vlado.”
No próximo dia 25, quando o assassinato que chocou o País vai a meio século, o Instituto Vladimir Herzog vai promover na catedral da Sé ato inter religioso para relembrar a resistência pelo jornalista – o templo foi palco da missa de sétimo dia de Vlado, que atraiu uma multidão de oito mil jornalistas e populares assustados, mas dispostos, tão indignados estavam, a enfrentar bordoada dos agentes do DOPS. Também haverá uma recriação histórica que agrupará lideranças religiosas, familiares, autoridades e artistas.
Sérgio havia sido preso cerca de 20 dias antes de Vlado. Estava, então, com 25 para 26 anos.
Filiado e integrante do comitê universitário do Partido Comunista Brasileiro, ele foi sequestrado na Operação Jacarta, no Largo do Machado, centro do Rio, junto com o presidente da Juventude do MDB, Waldir Quadros.
“Waldir e eu fomos ao Rio no ônibus da meia-noite, nós íamos entregar um dinheiro ao João Guilherme (João Guilherme Vargas Neto, estudante de Matemática na Universidade Federal do Rio). Em 1964, com o golpe militar, ele foi para a clandestinidade até a anistia, em 1979. Ficou quinze anos na clandestinidade.”
“Ele era um dirigente político ligado ao PCB. O dinheiro que a gente recolhia entre os colegas em São Paulo era para ajudar o João Guilherme a se manter na clandestinidade”, segue o velho jornalista.
“Nosso plano era encontrar o João logo cedo na Igreja, na missa das 7hs. Ele vivia trancado em um pequeno apartamento enquanto não arrumava um passaporte para exilar-se. O dinheiro dava para ele se manter por algum tempo. O Waldir e eu também tínhamos dois compromissos à tarde. O Waldir ia ajustar detalhes e os contatos para um seminário sobre o acordo nuclear Brasil-Alemanha. O que significava aquilo? Aquele movimento do Geisel (general Ernesto Geisel, então o presidente) naquela direção, o que representava? Eu ia falar com o Paulinho da Viola e o Sérgio Cabral, o pai, sobre um clube do choro em São Paulo. Eu queria organizar o clube do choro em São Paulo. Na época havia vários grupos de chorões, mas era um gênero musical marginalizado.”
João Guilherme, hoje com 82 anos, era ‘um dos intelectuais mais importantes do Brasil’, depõe o jornalista. “Era o nosso assistente político, como se dizia, na estrutura do PCB. Cada núcleo tinha sempre um assistente político. Ele organizou a base dos jornalistas. O que era proibido naquela época era a gente combinar, a multiplicação da capacidade do trabalho, é isso que estava proibido. A gente levava o dinheiro para o João Guilherme em um envelope. Fiz isso várias vezes. Uma vez por mês a gente se encontrava com ele na igreja do Largo do Machado. A gente não tinha a menor ideia de onde era o apartamento em que ele morava.”
Cinquenta anos depois, um detalhe ainda o inquieta. “Por que aquele desespero (do governo militar) para nos eliminar? O PCB estava na clandestinidade por decisão deles.”
Sérgio Gomes conta que o DOI-CODI deu início a uma violenta e devastadora ofensiva contra o partido. “As prisões começaram ali, desmontando a nossa base, a célula junto à Polícia Militar, o coronel Vicente Sylvestre (preso em junho de 1975). Uma avaliação formulada pelo João Guilherme previa que iríamos sofrer o contravapor da vitória que tínhamos conquistado em novembro de 74 com o tamanho da votação no MDB. Foi uma puta vitória do MDB nas urnas, dezesseis senadores, mais de dois terços dos deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, muito acima daquilo que a gente previa.”
“Na semana anterior à minha ida ao Rio com o Waldir, eles (a repressão) tinham prendido muitos que viviam na clandestinidade, uns 15 quadros do partido. Um deles era um velhinho, o Bernardino, ele tinha uma banca de jornal no Ipiranga. Barbarizaram com ele, queriam saber cadê o ‘Inácio’? ‘Inácio’ era o codinome do João Guilherme. O velhinho sabia que eu ia mensalmente levar o dinheiro para o João. Eles estavam matando o velhinho no pau, mas ele não ia falar, resistiu muito. Aí pegaram a mulher dele. Ele se quebrou. Disse ‘eu não sei’, mas sei quem sabe onde está o João Guilherme, é um repórter, ele vai ao Rio uma vez por mês…O repórter era eu.”
“Eles estavam nos seguindo e nos filmavam com uma Super 8, filmaram até num bar em Cotia (Grande São Paulo) onde a gente se reunia enquanto almoçava. O Waldir e eu sempre adotávamos severas medidas de segurança. Na velha rodoviária do centro de São Paulo, aquela noite, entramos no ônibus separados, até sem saber o banco de um ou de outro. Deixei meu carro longe da rodoviária. Viajamos a noite toda, chegamos na rodoviária do Rio por volta de 5h30, 6hs. Pegamos um táxi até o Largo do Machado. Quando saímos da rodoviária, aquele congestionamento esquisito, o táxi sai e eu percebo na calçada um fulano correndo, segurando um volume na altura do estômago, podia ser uma arma. Ele entra pela porta do carona em um fusca. Eram 3 fuscas, um atrás do outro. Achei esquisito, fui controlando pelo retrovisor do táxi e vi que era o comando do DOI de São Paulo. O comando seguiu nosso ônibus daqui de São Paulo até o Rio. Já no táxi no Rio, depois que percebi que nos seguiam de perto, falei para o motorista parar no primeiro bar. O que a gente tivesse de papel a gente ia jogar numa privada. Na altura do Flamengo paramos. Os caras se surpreenderam e tiveram de seguir porque senão iriam se revelar. Tomamos um café e saímos por uma feira livre numa travessa. Do outro lado pegamos um outro táxi, mas imediatamente a gente se viu cercado pelas três viaturas do DOI. Os caras disseram que eram do Esquadrão da Morte. O Waldir foi colocado dentro de um carro, eu no outro. Eles já começaram ali mesmo, murros, cigarro aceso. E fomos para o DOI-CODI do Rio, no quartel da Polícia do Exército.”
“Passamos a manhã ali, ficamos nus, exigiram nome completo e endereço de parente prá ‘devolver o corpo’. Queriam saber do ‘Inácio’. Dissemos que não sabíamos, ia passando o tempo e não falamos. Fomos pendurados no pau de arara e nos fizeram tomar quase meio litro de água com creolina, enquanto nos surravam com um caibro quebra-costelas. Ali tive a sensação de que eu já tinha feito o que era possível pelo meu País. Eu e o Waldir tínhamos um pacto de silêncio. Isso está contado no meu depoimento na Comissão da Verdade. No caminho de volta a São Paulo eles simularam nosso fuzilamento perto de um lixão. Eu num carro, o Waldir no outro.”
5 de outubro
Chegamos em São Paulo, levaram a gente ao DOPS (outro endereço letal da repressão, situado no velho prédio de tijolos avermelhados, no Largo General Osório, Luz). Abasteceram, trocaram as chapas dos carros, fomos para a rua Tutóia, no DOI-CODI. Dali só saí quando teve o rebu da morte do Vlado.”
“Eu soube da morte do Vlado pelo Davi Rumel, ele era estudante de Medicina, filho do diretor da Faculdade de Odontologia da USP. ‘Apagaram o Vlado’, ele disse. O Vlado tomou porrada, choque e foi asfixiado. Eu passei por essa experiência. Eu não quero que tenham dó de mim, esse sentimento eu não quero. Eu sabia o que podia acontecer. Eu participei conscientemente da luta contra a ditadura desde 1968. Depois, já em 1975, eles (os generais) queriam abrir (a abertura de Geisel, lenta e gradual), mas antes eles queriam nos matar.”
Logo, Sérgio foi transferido e chegou ao Paraíso, na rua Tutóia, a sede do destacamento.
Era 5 de outubro. Meio século depois, ele se recorda do ‘inferno’ que conheceu. “Fomos vítimas de uma política deliberada de eliminação física.”
Gritos
Aponta seu algoz. “Eu fui espancado pelo capitão Ramiro, esse cara tinha uma técnica especial de bater. Os gritos no DOI eram uma coisa natural, os gritos eram ouvidos pela vizinhança. No mercado imobiliário era sabido que ali no bairro os apartamentos eram até desvalorizados, mais baratos, por causa dos gritos de horror que se ouviam.”
Ramiro podia ser um codinome – prática usual dos porões -, para dificultar a identificação do torturador. “Uma equipe era comandada pelo capitão Ramiro. Eram três equipes no DOI-CODI. Elas se revezavam em plantões de 24 horas, com 48 de folga”, segue Sérgio Gomes.
Em 1992, a pedido do Unidade, o jornal do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, Sérgio reconstituiu cenas da desgraça que passou em depoimento ao jornalista e professor José Carlos Rocha.
“O capitão Ramiro tinha um estilo diferente das duas outras equipes. Andava sempre munido de um sarrafo e sabia exatamente onde bater, nos cotovelos, nos joelhos, nos tornozelos, nas articulações. Ele conhecia muito bem a anatomia humana e desmontava uma pessoa com poucos golpes e sem barulho. Tinha prazer especial em amarrar as pessoas na ‘cadeira do dragão’, uma espécie de ‘troninho’, de metal, molhado, onde os braços e as pernas são imobilizados. Amarra-se um fio elétrico no pênis, outro na orelha e aí, em seguida, com uma maquininha, um dínamo, chamado de ‘pimentinha’, iam dando choques. Não é um choque que queima, não sei te dizer se é amperagem ou voltagem. Depois de encapuzar a pessoa, o capitão Ramiro jogava amoníaco sobre a parte frontal do capuz e apertava aqui na parte abaixo do queixo, de tal maneira que a pessoa ficava com aquele capuz bem colado no rosto.”
“Ramiro dava porradas, gritos, choques elétricos e jogava amoníaco no capuz. A gente ia respirando esse amoníaco. À medida que o choque elétrico se dá, se você estiver expirando, você não consegue inspirar, e se você estiver inspirando, não consegue expirar. Então, como os choques são dados aos trancos, você vai ficando com a respiração completamente descontrolada e esse amoníaco entra pelas suas narinas, invade o cérebro como se fosse uma batalha de espadas, uma coisa maluca, cortando seu cérebro de todo jeito – e você ali imobilizado, levando choques, porrada, gritos. Tudo isso arma uma situação que é como se fosse surreal, você já não tem mais noção se é com você mesmo que está acontecendo, começa a ficar confuso, não há saída para aquilo, você está amarrado.”
No depoimento ao professor José Carlos Rocha, publicado pelo Unidade, Sérgio lembra que ‘foi submetido a torturas muitas vezes e percebeu que a qualquer momento morreria, a qualquer momento podia ter um derrame, um colapso, a coisa ia se desagregar.’
‘A pessoa se salva morrendo’
“Você vai ficando completamente fora de si. É uma coisa que até precisaria ser vista por médicos neurologistas, para saber o que acontece, porque eu soube depois que, frente a situações-limite, de dores muito agudas e aflições muito intensas, o cérebro dá um tipo de descarga e mata o indivíduo para salvá-lo do enlouquecimento. Se a pessoa sofre um acidente de automóvel e tem esmagamento da coluna, por exemplo, que dizem ser a mais terrível das dores, o sujeito morre de dor, morre para fugir dessa dor, que é tão lancinante que a pessoa vai enlouquecer. Antes de enlouquecer, a pessoa se salva morrendo”.
“Eu senti isso. Tanto é que, numa dessas ocasiões, depois de passar por uma dessas sessões do capitão Ramiro, me desamarraram, me tiraram o capuz, me deixaram lá, eu vomitei bílis, vomitei uma coisa como se fosse placenta, eu estava todo erodido, me lembro que abriram a porta do lugar onde estava, trouxeram uma pessoa, que não sei quem é, que tinha sido recentemente presa, e lhe disseram: ‘Olha, é melhor colaborar, senão vai acontecer com você a mesma coisa que está acontecendo com esse cara aí, que já está no fim.’
Humilhação
“Isso me deixou com uma mistura de cagaço e humilhação, porque eu estava sendo usado a essa altura já como exemplo do estrago que se pode fazer com um ser humano.”
“Depois de vários dias eu tinha emagrecido bem, estava todo arrebentado, minha condição era usada para produzir pavor nos outros. Um dia eu vi sobre um banquinho, um vidro de amoníaco, o vidro que o capitão Ramiro usava. Fiquei olhando para aquele vidro e resolvi me suicidar, porque a coisa tinha passado do que parecia suportável, eu ia enlouquecer. Peguei o vidro e tentei tirar a tampa de plástico torcendo para que, tomando o amoníaco, fosse suficiente para me matar logo. Estava nessa tentativa desesperada de me matar quando entraram o capitão Ramiro de novo e o seu grupo. Eles me arrancaram aquele vidro das mãos, me amarraram na cadeira do dragão e aí começou outra sessão, coisa maluca.”
Vlado chega ao inferno
Vladimir Herzog, de Osijek (antiga Iugoslávia, hoje Croácia), nascido aos 27 de junho de 1937, filho de Zigmund Herzog e Zora Wolner, jornalista, professor, cineasta e carismático, chegou à rua Tutóia, 921, para depor. Saiu de lá sem vida. Era 25 de outubro de 1975.
Os militares encenaram um suicídio – o profissional da TV Cultura teria se enforcado com um cinto, segundo alegaram. Logo, revelou-se a farsa.
“No dia 25 de outubro eu já tinha passado por essa longa sequência de barbáries”, conta Sérgio. “Lá naquela cela solitária eu podia ouvir gritos ‘quem são os jornalistas? quem são os jornalistas?’ Pô, quem é que podia ser? Não tinha ideia que era o Vlado. Pelo tipo de luta, pelo tipo de grito, pelo tipo de porrada, sabia que estava sendo feito com alguém exatamente aquilo pelo que eu tinha passado e sabia o que podia acontecer.”
“Algum tempo depois, um grande silêncio. E, logo, um remanejamento, deslocam-se pessoas de um lado para outro dentro daquelas instalações lá na delegacia, desse ambiente onde eles tinham gente presa. Mais tarde fui informado pelo Davi que haviam apagado o Vlado.”
‘Ninguém podia ficar com cinto’
Sérgio narra que ficou preso numa cela igual à que Vlado ocupou. “Fiquei preso em praticamente todas as celas ali. Não há nenhuma possibilidade de suicídio do Vlado. Ninguém ficava com cinto, ninguém podia ficar com cinto. Depois da morte do Vlado, eles fazem justamente o remanejamento das pessoas dentro do DOI-CODI, para deslocar o corpo, montar a farsa, bater as fotografias. A cela onde eles tiraram a foto do Vlado era uma das celas que estava toda ocupada por pessoas presas. Quer dizer, o Vlado jamais esteve preso numa dessas salas que correspondiam às celas da delegacia. Ele foi torturado lá dentro, na sala especial onde ficava a cadeira do dragão. As pessoas não eram torturadas nas celas, eram torturadas lá dentro. O Vlado nunca esteve no lugar onde dizem que ele se suicidou. Ele estava sendo torturado daquela maneira que eu descrevi de forma simples e eu tenho para mim que ele morreu disso, de derrame, de colapso, pois foi uma longa sessão de terrível tortura. Não sei se é possível, se a religião judaica admite que se faça a exumação do corpo, porque, se fizerem certamente encontrarão traços de amoníaco.”
Ele afirma que Vlado não foi assassinado durante a madrugada. “Também não vi ninguém ser torturado ou afogado em água com enxofre. Isso não era o que se fazia ali. Eu afirmo: o Vlado não se suicidou. O Vlado foi assassinado. Na manhã do dia 25 de outubro ele foi submetido à tortura, amarrado à cadeira do dragão, sob choques elétricos, possivelmente um fio amarrado ao sexo e outro à orelha, levando porrada de ripa nas articulações. E asfixiado com amoníaco que era derramado sobre o capuz que se usava para impedir que os presos vissem o rosto de seus torturadores.”
Depois do sufoco no DOI-CODI, Sérgio passou um mês no DOPS e, mais tarde, na 6.ª delegacia (Cambuci). Em seguida, chegou ao presídio do Hipódromo, zona Leste da cidade. “Era uma detenção oficial, com uma ala para presos políticos. Não tinha mais tortura, não tinha mais nada disso ali.”
Tempos depois, foi chamado para depor em audiência pública na Comissão Nacional da Verdade. “Um absurdo o que passei em meu depoimento. Chegou o capitão Ubirajara, torturador do DOI-CODI. Houve uma inquietação. O capitão ficou me ouvindo. Puseram o cara do DOI-CODI para assistir meu depoimento. Ele com o advogado dele. Quando me virei para o capitão Ubirajara eu fui vaiado.”
Por: Estadão Conteúdo